A partir da adaptação do romance angolano O Segredo da Morta de António Assis Júnior para o texto dramático Cangalanga, a Doida dos Cahoios de José Mena Abrantes, a adaptação chegou a texto espectacular (encenação) com recurso a dialéctica da interculturalidade do fenómeno teatral contemporâneo, ou seja, adoptamos o método da ampulheta.
Utilizou-se vários métodos de encenação, mas deu-se primazia à última tendência metódica de encenação O Retorno do Texto e da Nova Dramaturgia, ao longo dos Anos de 1990, cujo pressuposto se explica particularmente pelo custo desmesurado dos espectáculos, a crise dos auxílios públicos e o incentivo à escrita (Pavis, 2013). Tudo isso conduziu à uma encenação híbrida e à pesquisa de meios mais simples e minimalistas de encenar textos que não exigissem mais um dilúvio de imagens e efeitos.

Recorreu-se, entretanto, à diversas técnicas já enumeradas no Capítulo anterior, porém o método chave para a encenação da obra Cangalanga, a Doida dos Cahoios é o da ampulheta como temos vindo a explicar.
O enredo, as personagens, o espaço, o tempo, o ponto de vista da narrativa – constituem os elementos estruturadores do romance e que quando se falasse da encenação da obra Cangalanga, a doida dos Cahoios, far-se-ia a exposição conceitual, técnica e metodológica dos referidos elementos, anteriormente elencados, de maneiras que se compreenda a relação existente entre o romance e o drama, e como acontece a adaptação de um género para o outro. Explicámos já no processo intermodal do narrativo ao dramático como esses elementos da narrativa se assemelham ao modo dramático e facilitam a adaptação. Com o espírito da professora Ana Mafalda Leite que nos remete a uma das hipóteses desta pesquisa, aqui o faremos a partir de três aspectos fundamentais para a referida encenação: 1) o estudo do texto (enredo e ponto de vista da narrativa); 2) a preparação dos actores (personagens); e 3) a cenografia da obra (espaço e tempo).
O primeiro aspecto começou pela pesquisa do texto que seria interpretado pelo grupo de artistas e atribuição das personagens por eles representados. Ou seja, o trabalho de mesa: leitura e interpretação do texto. Tratando-se de uma adaptação de um romance, depois que se definiu o texto, as personagens e o cronograma de ensaios houve necessidade de estudar a obra O Segredo da Morta da autoria de António Assis Júnior para perceber melhor os arranjos técnicos que José Mena Abrantes atribuiu à obra Cangalanga, a Doida dos Cahoios, enquanto texto dramático.
Percebemos que a obra pertence a um conjunto de três volumes, entre os quais; o terceiro, que se denomina Peças Adaptadas e Versões Teatrais de Contos Tradicionais (2013) da autoria de José Mena Abrantes, à qual requereu uma análise.
Cangalanga, a Doida dos Cahoios (1987): versão dramática de José Mena Abrantes, publicado no início da década de trinta, intitulado O Segredo da Morta, de António Assis Júnior que, segundo Fernando Mourão (A Sociedade angolana através da Literatura, Ed. Ática, 1978, São Paulo) (como citado em Abrantes, (2013, p. 47) “é o último grito dos homens negros da geração literária do fim do século XIX”. A obra permite explorar o contraste entre a realidade prosaica e a atmosfera enigmática através da diluição das fronteiras entre sonho e realidade, entre o mundo em que vivemos e um “além” não menos concreto, num confronto que subsiste hoje com toda a sua intensidade no quadro mental do angolano médio.
Pensar sobre a formação do angolano é reflectir sobre situações sociais, valores ideológicos e questões políticas que constituíram a história de Angola desde o surgimento da imprensa, no final do século XIX até a independência política e cultural no final do século XX. Porém, no início do século XX, Assis Júnior, ao publicar O Segredo da Morta, primeiro romance angolano, intenta uma literatura que foge aos padrões coloniais, e de forma ainda acanhada, utiliza-se de uma estratégia literária provocativa em relação ao discurso do colonizador, na tentativa de buscar novas possibilidades literárias, estabelecendo diferenças que permitiriam repensar a identidade cultural em Angola; assumindo assim a nacionalização da literatura angolana.
No início da sua narrativa, já alerta quanto ao valor do seu projecto literário: “Será porventura este, no género, o primeiro livro que reflecte, entre nós, aquele viver dos tempos idos. Não compete a quem escreve dizer da sua utilidade” (Assis Júnior, 1979, p. 33).
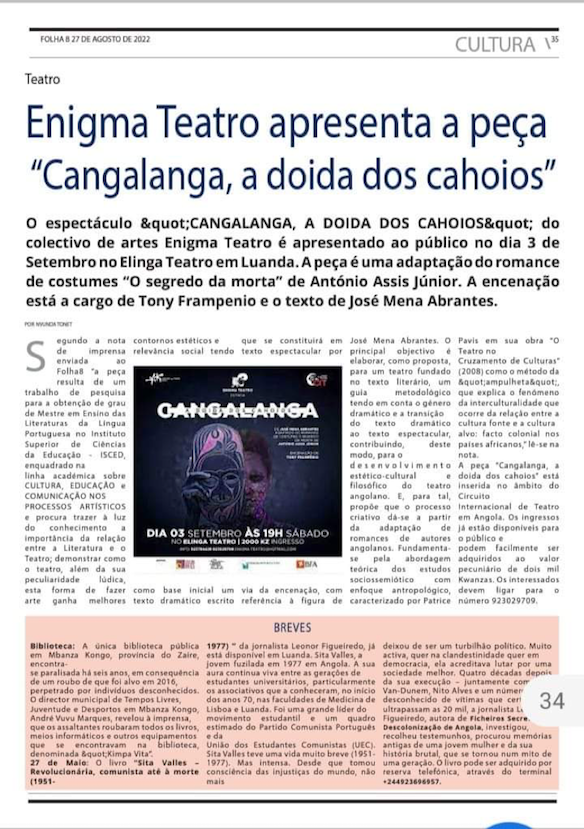
Observa-se que o ficcionista recria em sua obra experiências reais que envolvem o contexto histórico e social de Angola e que as suas significações servirão para entender a mentalidade social contemporânea. Ao recriar o real, torna o angolano sujeito, e não mais objecto, social da sua história, porém mesmo com o objectivo de buscar uma linguagem mais fiel a veracidade angolana, segue um padrão estético e cultural europeu, revelando dessa forma, diferenças significativas quanto à escolha da estratégia discursiva. No entanto, para conseguir uma “unidade imaginária” tenta conciliar elementos tradicionais de terras angolanas, num contexto relativamente europeu; que de certa forma cumpre com a missão de restaurar a cultura angolana; entretanto, as formas, estruturas e funções que constituem o romance são preservadas, conforme advertência,
Tirada a parte puramente literária, no fundo nada acrescentei: impressas ficaram as frases, até as próprias palavras dos figurantes, como também não omiti os nomes dos que nesta história intervieram circunstância que, decerto, constituirá novidade de peso no nosso acanhado meio, onde pouco se lê, pouco se pensa e pouco se aprende. Penso, porém, que, constituindo esse trabalho um meio de vulgarização do que o indígena tem de mais puro e são na sua vida, eu não devia resistir à revelação do facto que ele encerra, por constituir um forte apoio para a formação da história das coisas, ainda mal conhecidas, e das pessoas que, com poder e merecimento, nasceram, passaram e viveram nesta terra. (Como citado em Abrantes, 2013, p. 41)
Ainda que Assis Júnior, historicamente e politicamente, pertença a uma condição colonial, ao introduzir o romance em Angola propõe, de forma comprometida, revitalizar os “valores da terra”, no sentido de expressar a alteridade angolana como estratégia de resistência colonial, mesmo num ambiente alheio ao ensejo de autonomia, “onde pouco se lê, pouco se pensa e pouco se aprende”. Cangalanga, a Doida dos Cahoios seria o que mais se harmonizaria com o entrecho que encerra: “com ela abri e fechei o volume.” (Assis Júnior, 1979, p.33) Com a morte da sociedade tradicional, Cangalanga (a Doida dos Cahoios), encerraria a moderna, porém alienada, sociedade angolana. Essa análise permitiu compreender o contexto histórico e sociocultural do romance O Segredo da Morta e, de igual modo, do drama Cangalanga, a Doida dos Cahoios, de maneiras que a encenação tivesse enquadramento estético e filosófico.
Quanto ao segundo aspecto (a preparação dos actores), recorreu-se aos métodos das vanguardas russas (De 1910 a 1930) particularmente com Stanisláviski e Chekhov, cujo foco recai para a formação sistémica do actor, pela sua técnica interior ou psicoemocionais. No entanto, experimentou-se técnicas de outros artistas, como Meierhold, que no espírito de vanguarda alemã da mesma época, fizeram inúmeras experiências espaciais e construtivistas, enaltecendo a “reteatralização” do teatro.
Para melhor compreensão explica-se as referidas técnicas: 1) acções físicas; consiste em exercícios de movimentos que o actor adopta para determinada situação. 2) o se mágico; consiste na capacidade imaginativa do actor tendo como recurso uma série de suposições que o coloca na condição simulada de determinado personagem, num espaço e numa situação. 3) memória das emoções; consiste em sentimentos tirados das experiências reais do actor e transfere-os para o personagem. Todo esse procedimento consiste a um sistema de ensino de preparação do actor denominado “psicotécnica” (Stanislaviski, 2014).
Quanto às experiências de Meierhold, recorreu-se à Biomecânica Teatral, uma técnica que consiste no treinamento do actor sobre movimentos acrobáticos e exercícios de pantomima extraídos de várias culturas teatrais. Segundo Oliveira (2010), em busca de um teatro de convenção, Meierhold traçou um paralelo entre a sua pesquisa teórico-prática e as antigas formas teatrais. Para ele, essas tradições teatrais serviriam como fonte para a criação de um teatro do futuro. Da sua intensa investida nesta direcção, Meierhold chega à criação da Biomecânica Teatral, um sistema que, segundo o próprio encenador, deriva de elementos da Commedia dell´Arte, do circo e do teatro oriental. Foi com este procedimento metodológico que se preparou e formou os actores integrantes no espectáculo Cangalanga, a Doida dos Cahoios, durante 3 meses de preparação: Junho, Julho e Agosto, aos fins de semana (sábados e domingos), três horas ao dia (das 15 às 18 horas).
Para o terceiro e último aspecto fundamental na encenação da obra Cangalanga, a Doida dos Cahoios (a cenografia), diferente da composição do romance cuja descrição dos ambientes é naturalista/realista, recorreu-se ao método antinaturalista e a pesquisa do espaço: Adolphe Appia e Edward Gordon Craig (de 1900 a 1930). Persuadidos da autonomia estética do palco, estes dois artistas e teóricos buscam os dois elementos essenciais da representação: o actor iluminado no palco. O espaço é portador de sentido, pois, como observa Appia (como citado em Pavis (2013, p. 15), “a encenação é a arte de projectar no espaço aquilo que o dramaturgo pôde projectar apenas no tempo”.
Recorreu-se de igual modo à era clássica da encenação (de 1920 a 1940), pelo menos na França, é a de Copeau e do Cartel (Pitoeff, Dullin, Jouvet, Baty), no apogeu de uma reflexão sobre a leitura dos textos e também os começos da era “cenocrática”, na qual o encenador controla os signos o mais rigorosamente possível. A definição da encenação torna-se quase tautológica: “a actividade que consiste no arranjo, dentro de determinado tempo e determinado espaço de actuação, dos diferentes elementos da interpretação cénica de uma obra dramática”. Copeau (como citado em Pavis (2013, p. 19) fornece a definição clássica: “o desenho de uma acção dramática. É o conjunto dos movimentos, gestos e atitudes, de acordo as fisionomias, vozes e silêncios, é a totalidade do espectáculo cénico que emana de um pensamento único, que o concebe, o regula e o harmoniza”.
Analisada toda essa teoria do espaço cénico, aplicámo-la de acordo o contexto tecnológico que as infra-estruturas do teatro angolano oferecem. Utilizámos sons onomatopeicos, danças e jogos tradicionais, rituais, e músicas em diversas línguas (umbundu, quimbundu e kikongo). O caso das línguas, nesta ordem, é por se tratarem das mais faladas em Angola, depois da língua portuguesa. Ou seja, está aqui o enfoque antropológico do modelo sociossemiótico. Todo este procedimento metodológico permitiu que se concretizasse uma encenação para um teatro fundado no texto literário de acordo os objectivos traçados, a qual durante o processo da pesquisa denominou-se de “método da ampulheta” pelo seu carácter tecnicista – híbrido – intercultural: Ocidental e Africano. Ou dito, contemporâneo.
Referências Bibliográficas
Abrantes, J. M. (2013a). O teatro de José Mena Abrantes Angola,Vol. I – Peças Histórico – Fantasiosas. Luanda: Edições Maianga.
Assis Júnior, A. (2013). O Segredo da Morta. Luanda: UEA.
Pavis, P. (2013). A Encenação Contemporânea; origens, tendências, perspectivas. São Paulo: Perspectiva.
Oliveira, E. J. S. (2010). A Biomecânica Teatral de Meierhold: busca de uma tradição teatral e seus reflexos nos dias de hoje [Paper presentation]. VI Congresso de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cénicas de 2010, Brasília. https://publionline.iar.unicamp.br

