Essa denominação atribui-se à categoria onde uma dada obra literária insere-se, em função do seu conteúdo e da sua forma. Na história, houve várias classificações de géneros literários, de modo que se pode determinar uma categorização de todas as obras seguindo uma abordagem comum. A divisão clássica é, desde a antiguidade, com Aristóteles, de quem se diz ter analisado todos os temas: Épico, Lírico e Dramático. Esta divisão, de certa forma, válida ainda hoje, não incluía o Romance, o qual se desenvolveu séculos depois.
Vários autores apresentam discussões a respeito do que se pode compreender como géneros, visto que, algumas vezes denominam-se por “modos”. Reis (2008, p. 246) apresenta uma perspectiva a qual, ao nosso entendimento, esclarece as diferenças existentes entre “modos literários e géneros literários”. O autor enumera-os da seguinte forma: “géneros literários do modo Lírico (a écloga, a elegia, o ditirambo, o epigrama, o madrigal, o epitáfio, o hino, a ode, a canção, etc.); géneros literários do modo narrativo ou épico (a epopeia, o romance, o conto, a novela, etc.); género literários do modo dramático (a tragédia, a comédia, a farsa, a tragicomédia, o auto, etc.) ”. Segundo o mesmo autor, “diferentemente dos modos, os géneros literários são por natureza instáveis e transitórios, sujeitos como se encontram no devir da História, da Cultura e dos valores que as penetram e vivificam (…) ”. (Reis, p. 246).
Sendo que o género dramático são textos literários criados com o intuito de serem encenados, apresentaremos de seguida alguns dos géneros que mais se aproximam ao drama enquanto texto dramático e, consequentemente, texto espectacular.
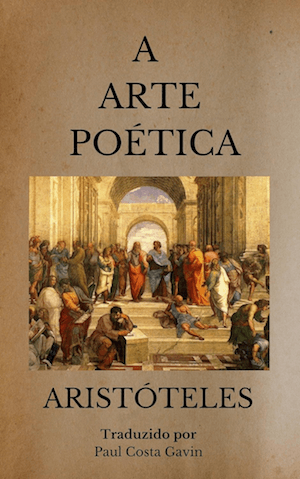
Tragédia
No capítulo VI da sua Poética, Aristóteles conceitua a tragédia como a mimeses de uma acção de carácter elevado (importante e completa), num estilo agradável, executada por actores que representam os homens de mais forte psique, tendo por finalidade suscitar terror e piedade e obter a catarse (libertação) dessas emoções.
Segundo Soares (2007), Aristóteles distinguiu seis partes na tragédia: a fábula, os caracteres, a evolução, o pensamento, o canto e o espectáculo. Destaca a importância da fábula (ou mito) que, como mimeses da acção (combinação de actos), se estrutura pela subordinação entre as partes, pelo seu inter-relacionamento, criando-se a unidade de acção. E acrescenta que, antes de chegar ao desfecho, o autor de tragédias deve construir o nó (que vai do início da tragédia até o ponto onde se produz a mudança de sorte do herói), o reconhecimento (faz passar da ignorância ao conhecimento), a peripécia (mudança de acção, que não ocorre em conformidade com o verossímil ou o necessário) e o climax (ápice do conflito, que se precipita no acontecimento catastrófico). O filósofo considera ainda o mais belo reconhecimento, aquele que decorre de uma peripécia, como em Édipo rei, de Sófocles, tragédia que podemos tomar para modelo, por possuir todos os elementos citados acima.
Entre os principais autores do género dramático (tragédia) na Grécia antiga estão: Sófocles (496 – 406 a.C) dramaturgo dos mais importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo e Eurípedes, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu. As suas peças retractam personagens nobres e da realeza; Ésquilo (524 – 456 a. C) frequentemente reconhecido como o pai da tragédia, e o mais antigo entre os três trágicos gregos cujas obras ainda existem; Eurípedes (480 – 406 a. C) poeta trágico, do século V, a. C., o mais jovem dos três grandes expoentes da tragédia grega clássica, que ressaltou em suas obras as agitações da alma humana e em especial a feminina.
Comédia
Para conceituar a comédia podemos recorrer ainda a Aristóteles. Segundo ele, essa forma dramática se volta para os homens de mais fraca psique, através da mimesis daqueles vícios que, não causando sofrimento, caem no ridículo e produzem o riso. A etimologia do vocábulo comédia (komoidia) nos permite ligar a origem dessa forma dramática ao festejo popular (kômos) ou a kómas (aldeia), pois segundo Soares (2007, p. 61) “os actores cómicos andavam de uma aldeia para outra, por não serem prestigiados na cidade”.
Bergson (como citado por Soares, 2007, p. 61) “registra, em O riso, o cómico dos movimentos (ressaltado o automatismo), de situação (obtido através da repetição, da inversão ou da interferência de séries), de palavras (através de jogos de palavras, do exagero, das formas estereotipadas, do humor, da ironia…) e ainda de carácter (o distraído, o insociável, o vaidoso, o hipócrita… .)”.
As modificações pelas quais passou a tragédia e os autores por meio de quem elas se deram não ficaram sem registo. As da comédia porém, porque de início ela não gozava de boa reputação, não têm registo. Em a Poética de Aristóteles, fala-se no extravio do capítulo que devia abordar melhor o género cómico.
Entre os principais autores estão: Aristófanes (445 – 386 a. C) um dramaturgo grego considerado o maior representante da comédia antiga. Nasceu em Atenas e, embora a sua vida seja pouco conhecida, as suas obras permitem deduzir que teve uma formação requintada; Menandro (342 – 291 a. C.) o principal autor da Comédia Nova, última fase da evolução dramática ateniense, que exerceu profunda influência sobre os romanos Plauto (205 – 184 a. C.) e, sobretudo, Terêncio (185 – 159 a. C.).
Drama
O género dramático, como indica a própria origem da palavra, segundo Soares (2007), “vem do verbo grego dráo = que significa fazer, é acção”. De acordo com a referida autora a palavra drama emprega-se: “1º) para designar o género dramático em geral; 2º) como sinónimo de peça teatral; 3º) como uma forma dramática específica, que resulta do hibridismo da tragédia com a comédia”.
Com essa terceira acepção, como se pode ler em Soares (2007), surge o drama, na primeira metade do século XVIII, como criação do dramaturgo francês Nivelle de La Chaussée, que o designou “comédie larmoyante” (comédia lacrimejante), sendo acompanhado pelo drama burguês de Diderot, que substitui personagens da história greco-romana por cidadãos burgueses do seu tempo, localizados no seu espaço próprio e em condições específicas da sua classe social.
Com o Romantismo, caracterizado sobretudo pela oposição às regras clássicas de produção literária, propõe-se a mistura de géneros, fervorosamente defendida por Victor Hugo, em seu famoso “Prefácio de Cromwell (1827)”, onde apresenta o drama romântico como resultado da fusão entre o grotesco e o sublime, o terrível e a bufonaria, a tragédia e a comédia. Dessa época, Soares (2007) destaca: Hernani (1830), de Victor Hugo, Lorenzaccio (1833), de Musset, e Chatterton (1835), de Vigny.
Angélica Soares (2007), autora da obra Géneros Literários explica que em meados do século XIX, o drama abandona os temas históricos (“drama de capa e espada”) e volta-se para a produção de um teatro de actualidade (“drama de casaca”), iniciado pela célebre Dama das Carmélias, de Alexandre Dumas Filho. Essa modalidade do drama atravessaria o Realismo e o Naturalismo.
Por outro lado, a tradução fluente da Poética (2017) de Aristóteles apresentada pela estudiosa Maria Aparecida de Oliveira Silva, segundo nos informa Fernando Brandão dos Santos, prefaciador da referida Obra, esclarece que a poesia dramática, com as suas vertentes mais importantes: a tragédia e a comédia, sempre foram das manifestações mais importantes na literatura daquela que foi uma das maiores cidades do mundo antigo – Atenas. Para a referida autora, “quando se fala de poesia na Grécia, pelo menos até o final do século V a. C., o que está em jogo não é um texto para ser lido por um público acostumado a livros, mas, ao contrário, “poesia” designaria uma manifestação artística diferente daquilo que hoje concebemos, comportando outros signos elaborados para uma apresentação ao vivo em celebrações públicas ou privadas” (p.8).
A referida autora da tradução da Poética (2017, p. 15), conclui explicando que essa postura, inédita no mundo grego antigo, “está eivada do pressuposto de que a escrita, sempre anterior à performance, é mais importante”.
Parece-nos que o drama é o último dos géneros em que a execução oral, no mínimo, ainda se faz necessária para uma apreciação estética de sua totalidade significativa e de todas as suas possibilidades expressivas. É, segundo Maria Aparecida de Oliveira e Silva, “a passagem definitiva do mundo oral para o mundo da escrita, ou seja, para o mundo da literatura, da qual somos todos herdeiros”.
Apresentaremos de seguida as características do género literário Romance, pois, segundo Leite (1995) o género dramático é por excelência representativo para a modelização de adaptações de romances ao teatro e pode ser considerado como uma forma modalizadora especial a dramatização – transformação intermodal – que pressupõe a passagem do modo narrativo ao dramático.
Romance
Segundo Aguiar e Silva (2011), na evolução das formas literárias, durante os últimos três séculos, avulta como fenómeno de capital magnitude o desenvolvimento e a crescente importância do romance. Alargando continuamente o domínio da sua temática, interessando-se pela psicologia, pelos conflitos sociais e políticos, ensaiando constantemente novas técnicas narrativas e estilísticas, o romance transformou-se, no decorrer dos últimos séculos, mas sobretudo a partir do século XIX, na mais importante e mais complexa forma de expressão literária dos tempos modernos. De mera narrativa de entretenimento, sem grandes ambições, o romance volveu-se em estudo da alma humana e das relações sociais, em reflexão filosófica, em reportagem, em testemunho polémico, etc.
Dom Quixote de La Mancha, escrito no início do século XVII, é geralmente considerado como o precursor do romance moderno. Na tentativa de parodiar o romance de cavalaria, Miguel Cervantes não só escreveu um dos grandes clássicos da literatura, como ajudou a firmar o género que viria a substituir a epopeia, a qual, já agonizante, desapareceria no século XVIII, com o advento da revolução industrial.[1]
Não tendo existido na Antiguidade, essa forma narrativa, segundo Soares (2007, p. 42) “aparece na Idade Média, com o romance de cavalaria, já como ficção sem nenhum compromisso com o relato de factos históricos passados”. A referida autora explica que o romance reaparece no período Renascentista “como romance pastoril e sentimental, logo seguido pelo romance barroco, de aventuras complicadas e inverosímeis, bem diferente do romance picaresco, da mesma época, caracterizado sobretudo pela crítica de costumes ou pela temática histórica” (Soares, 2007, p. 42).
Em qualquer dessas formas, ora perfeitamente delineadas e identificáveis, ora desestruturados e camuflados, de acordo com Soares (2007) – o enredo, as personagens, o espaço, o tempo, o ponto de vista da narrativa – constituem os elementos estruturadores do romance. No capítulo II quando falarmos do processo intermodal do narrativo ao dramático e da encenação da obra Cangalanga, a doida dos Cahoios, far-se-á a exposição conceitual, técnica e metodológica da adaptação, tendo em conta os elementos estruturadores do romance, anteriormente elencados, de maneiras que se compreenda a relação existente entre o romance e o drama, e como acontece a adaptação de um género para o outro.
Para que se compreenda como esse processo ocorre explicar-se-á, já a seguir, as características e a relação do texto dramático e do texto espectacular.
[1] Atlas Básico da Literatura (2013)
Referências Bibliográficas
Aristóteles. (2017). Da Arte Poética (1ª ed.; M. A. O. Silva, Trad.). São Paulo: Martin Claret Ltda..
Leite, A. M. (1995). Modelização épica nas literaturas africanas. Lisboa: Vega Limitada.
Reis, C. (2008). O Conhecimento da Literatura: introdução aos estudos literários. São Paulo: Perspectiva.
Silva, V. M. A. (2011).Teoria da Literatura (Volume: 1 – 8ª Edição). Coimbra: Almedina.
Soares, A. (2007).Géneros Literários. São Paulo:Ártica.
[1] Atlas Básico da Literatura (2013)

