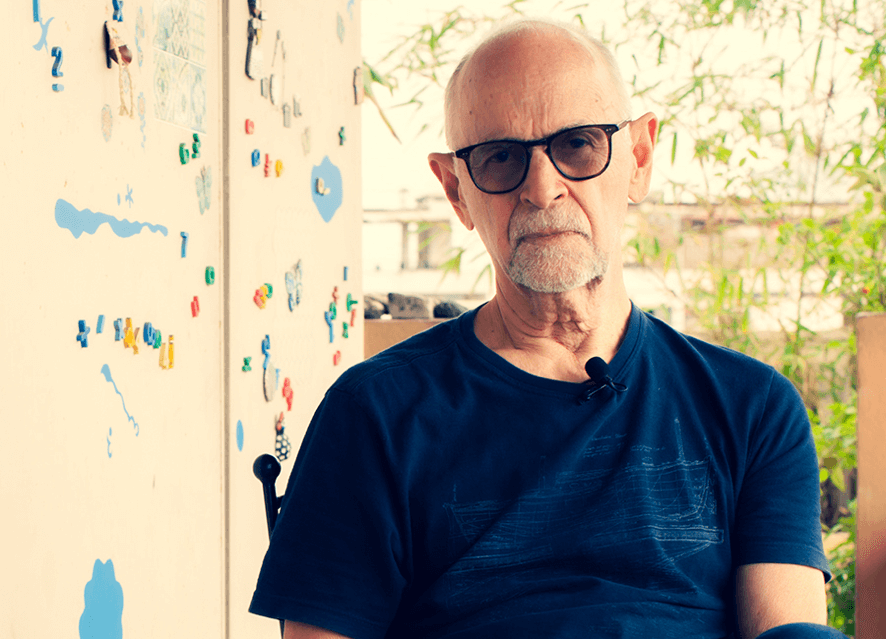

1. Quem é Mena Abrantes?
Sou um cidadão angolano nascido em 1945 em Malanje, onde permaneci e estudei até aos 15 anos, um tanto ao quanto alheio ao que se passava fora dos estreitos limites da minha cidade. Em 1960, vim estudar para Luanda, no Liceu Salvador Correia. Como na altura ainda não havia estudos universitários em Angola, segui dois anos depois para Portugal, onde concluí o curso de Filologia Germânica, na Faculdade de Letras de Lisboa. Nessa altura, o meu mundo já se alargara um pouco mais e, para isso, muito contribuiu o teatro universitário e o convívio com um grupo de angolanos já empenhados na clandestinidade em lutar pela independência de Angola. Com uma interdição de cruzar as fronteiras de Portugal, impostas por razões políticas em 1966, vi-me forçado a fugir desse país em 1970, radicando-me em Frankfurt/Main, na Alemanha Federal. Regressado quatro anos depois a Angola, na sequência do golpe de ’25 de Abril de 1974’ em Portugal, por aqui tenho estado nestas últimas décadas, escrevendo por razões lúdicas (poesia, prosa, teatro) e profissionais (jornalismo e consultoria de imprensa), e fazendo teatro nas horas vagas. Publiquei 20 peças de teatro, três livros de poesia, três de ficção e vários estudos sobre o cinema e o teatro angolanos. Tenho duas filhas e dois filhos que já me deram duas netas e três netos. São elas/eles a minha maior realização e razão de existir.
2. O que o motivou a adaptar para o palco o romance “O segredo da morta” de Antº Assis Júnior?
Quando voltei para Angola, em Novembro de 1974, a minha intenção era dar continuidade à prática teatral, que iniciara em Lisboa e prosseguira na Alemanha. Conhecedor da poesia e prosa angolana, vinha com a ilusão de encontrar também obras de teatro escritas por angolanos. Como elas não existiam, pelo menos publicadas, comecei por adaptar para a cena histórias tradicionais de várias regiões do país. Era uma forma de me familiarizar com temas e ideias transmitidos oralmente através de séculos, um património identitário que me permitiu aprofundar o conhecimento de algumas tradições do nosso povo. Na perspectiva de ir também conhecendo e resgatando para o teatro obras literárias já existentes, interessei-me pelo romance de costumes do Antº Assis Júnior, por considerar que ele reflectia perfeitamente o modo de ser e a mentalidade de uma importante franja da nossa sociedade. Numa entrevista que dei à revista TVeja, em 1987, referi sobre essa adaptação: “Sempre me agradou em O segredo da Morta, se descontarmos aquela (des)arrumação que o Assis Júnior deu ao seu material, o confronto entre uma realidade muito prosaica e uma atmosfera enigmática em que se diluem as fronteiras entre o sonho e a a realidade, entre este nosso mundo e um ‘Além’ não menos concreto. Quer queiramos quer não, esse confronto subsiste hoje em toda a sua intensidade no quadro mental do angolano médio e é, portanto, um tema de toda a actualidade, digno de ser proposto à reflexão do público. Para além de que se inscreve num propósito de resgate de temas e obras significativas do nosso passado cultural, que é cara a mim e ao grupo”. Essas primeiras abordagens acabaram por me levar à escrita de peças originais sobre temas diversos, do passado e do presente.
3. Sabemos que, para além de O segredo da Morta, tem-se inspirado em outros romances para criar as suas obras. Acha que é o caminho ideal? Porquê?
O ideal será sempre a escrita por cada autor de obras originais. A adaptação, ou a elaboração de uma nova versão a partir de um texto pré-existente, será sempre um caminho alternativo, na falta de melhores soluções. Tendo em conta a inexistência de uma dramaturgia angolana consolidada e a inexperiência de grande parte dos grupos teatrais em estruturar uma obra dramática, a adaptação de obras literárias já consagradas pode ajudar a superar essa dificuldade de contar uma história com começo, meio e fim e uma melhor elaboração estética. Não basta, com efeito, transpor para o palco a simples imitação de cenas experimentadas ou observadas na vida real, como acontece com frequência. Como ensina Peter Brook: “Qualquer ideia tem de se materializar em carne, sangue e realidade emocional: tem que ir além da imitação, para que a vida inventada seja também uma vida paralela, que não se possa distinguir da realidade em nenhum nível. Vamos ao teatro para um encontro com a vida, mas se não houver diferença entre a vida lá fora e a vida em cena, o teatro não terá sentido”.
Eu comecei por escrever peças inspiradas em contos tradicionais, não só de Angola, mas também dos Camarões, do Ghana e de S. Tomé e Príncipe. Além do romance de Assis Júnior, fiz versões para teatro de obras dos angolanos Pepetela, Ondjaki e Henrique Abranches, do português José Saramago e do congolês Wilfried N’Sondé. Mas muito mais gratificante foi escrever obras próprias sobre situações e figuras da nossa história ou sobre questões da actualidade. Sempre levando em conta o conselho de Peter Brook.
4. Dado o carácter improvisado do teatro angolano, constatado em muitos casos, acha que o ensino da literatura pode-se dar através do teatro? De que forma?
O ensino da literatura deve ser feito com recurso a obras literárias, incidindo sobre a biografia, a época, a linguagem, o estilo e a motivação dos seus autores. E utilizando mecanismos de análise fundamentados em critérios de abrangência universal. Através de adaptações ou versões dessas obras para teatro, pode-se, quando muito, interessar o grande público pelo seu conhecimento mais aprofundado. Nada substitui, na minha opinião, a leitura directa dos originais, porque obedecem a códigos estilísticos distintos dos da sua teatralização.
5. É a principal referência da dramaturgia angolana com mais de 20 textos publicados. Além do senhor, mais 13 dedicam-se à dramaturgia. É um número que o satisfaz? Acha haver qualidade no que se escreve para teatro? Se não, que motivos estão na base da pouca dedicação à escrita dos textos dramáticos?
O número de dramaturgos com obra publicada é obviamente insuficiente, sobretudo se comparado com o número de prosadores e poetas existente no país, mas não me cabe a mim explicar as razões para esse facto. Poucos anos depois da Independência, perguntei a Pepetela por que razão deixara de escrever obras de teatro (tinha na altura publicado duas peças) e a resposta foi que era frustrante escrever uma peça e não existir no país quem a levasse à cena. Essa situação até era real na época, mas agora já começa a não ter razão de ser. Num levantamento provisório que comecei a fazer, constatei que desde a Independência já foram levadas à cena mais de duas mil peças de teatro, a grande maioria nunca editada em livro. Elas, portanto, existem! Ou existiram… Não estão publicadas apenas porque grande parte delas não tem qualidade ou porque continuam a existir dificuldades editoriais inultrapassáveis para os seus autores? Eu já propus à editora Mayamba a criação de uma colecção vocacionada para a publicação de peças de teatro, mediante uma rigorosa selecção prévia. Isso até poderia levar os seus autores a um maior cuidado na sua elaboração. O problema é que os editores, e não só entre nós, não vêem grande saída para obras desse género e preferem publicar contos, poemas e romances, de rentabilidade mais garantida.
6. Seria o teatro angolano melhor reconhecido e teria maior relevância social se fosse fundado no texto literário?
Na minha opinião, discutível, é sempre importante ter uma base textual para um espectáculo de teatro, mas este, como é óbvio, não se esgota no texto. O texto, quando muito, assegura uma estrutura onde todos os outros elementos cénicos (actuação, luz, som, cenário, figurinos, etc.) se podem inscrever de forma mais organizada. Uma corrente teatral em vigor desde fins do século passado, em especial na Europa e nos EUA, a do chamado ‘teatro pós-dramático’, defende que o texto quando (e se) encenado é apenas um elemento mais entre outros, com direitos iguais aos dos restantes. Não creio que isso seja vantajoso nesta fase de evolução do teatro angolano. Acho, pelo contrário, que uma base textual bem elaborada continua a ser necessária e poderia ajudar a superar o improviso actual e a disciplinar questões relativas ao espaço e tempo teatrais. As entradas e saídas de cena são muitas vezes sem nexo e sem respeito pelas próprias convenções propostas, e o tempo de duração da peça estende-se muitas vezes de forma injustificada para além do necessário. A história do teatro ensina-nos que as obras teatrais de maior relevância social, as que se tornaram ‘clássicas’, são aquelas que se sustentam literariamente mesmo fora dos palcos.
7. Dados do último censo (2018) da AAT informam que o teatro angolano se apresenta com um rosto juvenil, educação assistemática e má articulação da língua portuguesa entre os praticantes. Serão estes os factores da não realização plena: estética, filosófica ou semiótica, da produção teatral em Angola?
Os factores referidos poderão ser os sintomas da não realização plena da produção teatral angolana, mas é injusto referi-los sem atender às verdadeiras causas que poderão estar na sua origem: ausência de um ensino de qualidade desde os primeiros anos de escolaridade, falta de inclusão do teatro e de outras disciplinas artísticas desde o ensino primário, falta de apoio regular e consistente por parte do Estado à produção cultural em geral, desleixo injustificado na materialização da lei do mecenato, inexistência até há muito pouco tempo de uma formação sobre teatro ao nível médio e superior, que continua aliás sem abranger outras especialidades indispensáveis como cenografia, sonoplastia, iluminação, figurinos, etc. O teatro entre nós só não desaparece, por causa do grande interesse e entusiasmo que a juventude angolana tem por ele.
8. Como país africano, angola preserva uma dimensão animista como identidade cultural. Porém, fruto do contacto colonial, adoptou marcas ocidentais que a tornaram numa cultura híbrida. Como, na sua visão, o fenómeno da interculturalidade pode servir de aporte metodológico para o ensino da literatura dramática?
Não há cultura nenhuma que não seja híbrida. Culturas puras e imaculadas não existem em parte nenhuma do mundo, mesmo nos seus lugares mais recônditos. Todas sofrem e exercem influências e interagem umas com as outras. Apesar de algumas das populações do país preservarem algumas tradições próprias e alguns traços culturais bem diferenciados das demais, todas elas se viram forçadas a conviver com os seus vizinhos e sofreram a influência do poder colonial aqui instalado há mais de cinco séculos. Não é por acaso que a língua portuguesa é falada ou compreendida praticamente em todo o país e que a religião predominante seja a importada do Médio Oriente. Esse convívio intercultural, voluntário ou imposto, permite que haja em simultâneo unidade e diversidade nas diferentes manifestações culturais do país, que é o que justamente lhe confere a sua maior riqueza. O ensino da literatura dramática deve apoiar-se, por isso, tanto no estudo das tradições transmitidas oralmente durante séculos, com as suas técnicas próprias, como no conhecimento das diferentes formas expressivas que o teatro assumiu ao longo do tempo e das obras mais importantes do repertório teatral universal.
Na sua obra, Da Literatura ao Palco, o espanhol José Sanchis Sinisterra, analisa as fronteiras entre “narratividade” e “dramaticidade”, para concluir que em toda a história do teatro ocidental existe uma ligação permanente entre a oralidade, a literatura narrativa e a literatura dramática: “A tragédia grega nasce como uma forma de dramatização e adaptação à teatralidade dos relatos míticos (transmitidos oralmente) e a mesma coisa acontece com uma boa parte do teatro europeu medieval, que é apenas a dramatização de textos bíblicos, do Antigo ou Novo Testamento. (.) Provavelmente, Shakespeare deve ter procedido de forma parecida em todo o seu teatro histórico, em relação às crónicas de Holinstead. (.) Também o próprio teatro italiano, o teatro espanhol, o francês e o alemão piratearam sem nenhuma inibição toda a matéria narrativa existente, que por sua vez era proveniente, em muitos casos da tradição oral”.
Daí a necessidade de o ensino da literatura dramática atender a esse processo lógico da oralidade à expressão teatral, passando pelo texto narrativo.
9. Que caminhos propõe para um equilíbrio estético do teatro angolano que cada vez mais adopta, como recurso técnico, o improviso?
Como escreveu o poeta espanhol António Machado, “não há caminho, faz-se o caminho a andar”. Todos os caminhos estão abertos, todos os caminhos são válidos, se seguidos com coerência, dedicação e rigor. Podem ser igualmente válidos um teatro de criação colectiva feito com base em improvisações, como ocorreu durante muito tempo em vários países da América Latina; um teatro de autor baseado em textos bem estruturados do ponto de vista literário; um teatro didáctico voltado para apoio às comunidades; um teatro apostado na música e na dança e em outras formas não verbais; um teatro de pesquisa de formas e linguagens novas, etc. Isto pressupõe, claro, que os seus dinamizadores saibam o que pretendem, dominem os seus mecanismos de expressão, respeitem o público a quem se dirigem e tenham algo de relevante a comunicar, do ponto de vista social e cultural.
Setembro 2022

