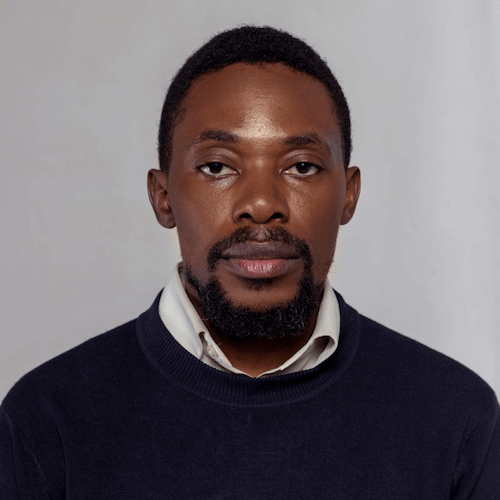As chances para fazer melhor a mim nunca faltaram. Eu é que não correspondia. Desde os dez anos que ela me impõe princípios. Sugeriu-me a educação: — Mingota, o melhor jeito de viver segura na vida é…— não me lembro lá tão bem, mas acho que seja — respeitar o que os mais velhos dizem. E era para eu ir pela vida a crescer com isso na mente, com as crenças firmes. Criança que era, não engolia isso direito e me implicava com ela, a fazer questões banais o tempo todo e a entrar em problemas quase sempre.
Depois, fui construir-me em desobediências. Numa hora estava num lugar, noutra hora, noutro lugar, quase sempre a aprontar algo para dar dor de cabeça às pessoas. A minha língua, pior ainda. Eu parecia amaldiçoada de usar impropriamente as falas. Minha mente não funcionava como as outras. Não havia um filtro entre o cérebro e a boca, nem a consciência a pedir que me sentisse mal por algo que dissesse. Dizia as coisas sem pedir desculpas e sem o mínimo de remorso, mesmo quando as palavras magoassem. Cada palavra e acção pareciam um veneno empacotado.
Quando, no calor da raiva, ela gritasse comigo expressões do tipo: — Tu não mudas mais?! —, eu rebolava-me na areia e dava um ‘Não’ com voz recta e nunca de promessa de mudar. Fui lhe dando certeza de que não valia a pena me manter por perto.
— Mingota, podes vir a arruinar todas as minhas tentativas de resistir à vida — disse ela — tu fazes ficar-me mais para baixo.
Deu-me uma missanga. — É teu amuleto! — E passou a mão na minha cabeça com preces sussurradas. — A mãe ama-te muito, filha, mas para o bem de ambas, é melhor que fiquemos longe uma da outra por algum tempo.
Ela estava a mandar-me embora de casa. A culpa era minha. Apenas minha. O motivo eu conseguia compreender. É que eu não era uma criança. Era um furacão. De tão áspera que era nos modos, talvez me tivesse dado por um caso perdido. Um vaso irrecuperável. Tirou-me do bairro das Cacilhas, Huambo, para me mandar para um lugar que eu não conhecia. Percebi que aquela era uma viagem que eu precisava fazer sem ela. Apesar de me ter colocado no azul e branco, aquela viagem foi difícil. Pesava-me tudo. Pesava-me a cabeça, a pele, os chinelos e até a minha roupa no saco de sapeira.
— Bailundo… Bailundo! – chamava o taxista.
Na paragem, a avó Teté aguardava-me. Cada passo que eu dei para ir ao encontro dela exigiu mais esforço que o anterior. Para me suportar, sobrara apenas a santa paciência da avó Teté. Avó e mãe – era assim que passei a vê-la. Depois da minha mãe, ela foi o segundo espaço no mundo que ocupei. Ela ficou a gerir-me com um poucochinho de educação e bwelelé de mimos.
Quando completei os dezoito anos, os aldeões já me olhavam com suspeitas. Parecia a eles que eu ultrapassara os limites, faltava-me um lar próprio para cuidar. Queriam é que eu tivesse já minhas lavras e animais, meus filhos e meu macho. Mas eu me retardava em brincadeiras com crianças. No regaço da avó Teté, conheci um tal de senhor Kalei, dinâmico, que passava nas casas, avisava das coisas da aldeia. Nunca tinha visto antes alguém que se movimentava com tanta fluidez. Era como se tivesse seis cabeças e três cérebros. Frequentava a nossa vizinhança. Entrava no quintal do idoso Ukwasapi com assiduidade.
A este último, via-o a sussurrar permanentemente e falava consigo mesmo. Habituei-me a ouvir o idoso a falar pela casa, a falar pelos caminhos para as lavras, como se conversasse com os bichos ou com as árvores. Ia mais pelos caminhos em busca de solidão. Eu olhava e caçoava pela desordem que se instaurava nos procederes do idoso. Apesar de solitário, o velho Ukwasapi, na concreta aldeia do Lunje, no reino do Bailundo, gente grande da aldeia de vez em quando ia reunir-se restritamente na casa dele. A minha avó Teté, por gentileza ou qualquer coisa mais, vezes havia que levava comida ao idoso, dedicava-lhe olhares afectuosos e voltava tarde da noite.

*****
Na nossa aldeia do Lunje, havia tempo em que fenómenos estranhos ocorriam. Nalgumas vezes, uma peste matava todos os porcos. Noutras, morriam todas as galinhas por inexplicáveis acontecimentos. Naquele ano, tivemos um período longo de esquisitices na chuva. Ela tinha os modos de começar em Setembro e terminar em Maio do outro ano. Naquele ano, no entanto, em Dezembro, já tinha parado de cair. O povo da nossa aldeia admirou-se, mas também ficou com a esperança de que voltasse mais cedo no ano seguinte. Talvez em Agosto para repor os danos anteriores.
Foi um tempo difícil para a aldeia. Minha avó falava daquele período com referências apocalípticas. Os bois e os cabritos que sobrevivem com a água foram os primeiros a emagrecer. Decepcionaram-nos as lavras, dessecaram as nacas, secaram os rios. Com a seca, veio o medo de que morrêssemos ou precisássemos de sair da nossa aldeia — que não seria diferente de morrer. A comida passou a rarear. Havia só um razoável suprimento de fuba de bombó que algumas famílias fabricavam e circulava como o principal sustento. Passámos a percorrer longos quilómetros em busca de água num rio que ainda escorria algumas gotas. Enquanto as meninas como eu enchíamos os bidões de água, os rapazes dedicavam longos instantes à pesca para pequeninar a fome e ter razões de acender o lume nas casas. Mas até no gesto de pescar havia efeitos da seca. Com frequência, os peixes grandes chegavam das cabeceiras do rio com as enxurradas. Como não caía nenhum chuvisco novo, restavam ape- nas os peixinhos.
Quando a fuba de bombó saiu de cena, eram algumas árvores frondosas de abacates e outras que resistiam bem à falta de água que nos passaram a reunir como reservas de alimento. Ninguém mais podia chamar a sua árvore de sua. As árvores passaram a ser da comunidade. A distribuição fazia-se mui organizadamente pelos anciãos da aldeia. Os coelhos e as cabras do mato que eram caçáveis também escassearam. Os caçadores mais hábeis apanhavam um ou outro com diminuta frequência, porque — estão cada vez em menor número — diziam convictos.
Depois os seres humanos começaram a sucumbir de fome e seca. Nessa desgraça, as privilegiadas eram as crianças. Elas eram as que mais padeciam. Pararam de adolescer correctamente, ficaram frágeis e por qualquer coisa tombavam doentes de anemia. Perdi a conta do número das que não resistiram à seca e à má alimentação e seguiram sem vida, em cortejo, para o cemitério da aldeia. A morte passeava nas casas de quase todas as famílias. As velas que os anciãos acendiam aos antepassados nos templos para as crianças pareciam não querer permanecer acesas. Mesmo sem ventos ou golpes de ar, apagavam-se, pois — Não há remédio. As folhas que serviam de remédios secaram — diziam conformados com a incapacidade de reverter a situação.
Em Novembro do ano seguinte, prestes a fazer um ano sem chuva, o sol ficou mais irritante ainda. Havia dias em que na ida dolorosa em busca da água, o sol parecia uma fogueira acesa. Castigava-nos com o calor, a fome e legava-nos o desalento pelo caminho. A minha avó e eu, ambas perdidas no fogo do sol, olhávamo-nos com dó. Eu ficava alquebrada e perdia a cada passo um pouco mais do brilho que tinha.
Notícias dirigidas aos chefes das famílias vieram do Kalei. Que para reverter a situação — Têm de legar tudo ao soba. Para que ele faça um sacrifício aos entrepassados e estes reconciliem-se com todos aldeões. Dizia que — o que sobrou dos animais e das espigas para plantações deve ser tudo doado aos ancestrais. Que — É melhor padecer por alguns dias mais, resolver-se com os entrepassados e ter a chuva de volta para o futuro ficar salvo.
Para mim, aquilo não fazia o menor sentido que fosse. Era um disparate à minha inteligência supor que para a chuva cair, tínhamos de entregar todas as posses ao soba. Em Dezembro, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Ao anoitecer, o céu enchia-se de nuvens, engravidava-nos de esperanças. Trovejava e relampejava. Trovejava e relampejava. Colocávamos-mos nos umbrais das portas abertas a esperar as primeiras gotas de chuva, mas elas nunca chegavam. Pela janela, no domingo à tarde, depois das recreações com palhaços, tão necessárias aos tempos da adversidade, vi o idoso vizinho rodeado de gente da aldeia que merecia respeito. Em meio aos cantos das aves, eu tentava escutá-los. Era como se as banais sentenças que proferia, e que não faziam o menor sentido para mim, estivessem a ser tomadas como dogmas para a vida da aldeia.
— Canda ano que passa, fica mais ndifícil eu trazer a chuva aqui. Otcho mwele! – E todos acenavam as cabeças. Fiquei intriga- da. Como um velho louco pode conduzir o destino da gente?
Segurei a parte de trás do meu pescoço enquanto tentava pensar no que dizer. Naquele momento, só me contava a minha visceral necessidade de mostrar o meu ponto de vista. Não me quis importar se aquilo causaria uma revolução na aldeia.
— Wa kemba, a pakûlu! Wa kemba, a pakûlu! Como se não me ti- vessem entendido, reforcei — Mentira, Mentira! — Esse avô anda com a cabeça rebentada! A chuva é coisa que só cai. — Repassei o que acabava de dizer e correspondia ao que eu realmente queria expressar. Meu coração retumbava dentro do peito e tinha coragem para repetir ou continuar — A chuva não depende desse idoso que fala sozinho.
O Kalei avançou dois passos rápidos e olhou para mim com os olhos acusadores, como se eu tivesse insultado e abanou a cabeça. Apesar de o meu coração quase parecer derreter-se e cair na caixa torácica por causa do jeito como me olhava, ainda me senti mulher suficiente para terminar o meu raciocínio — Esse é quem para mandar ir ou vir a chuva, ham? — Esse é quem? — Reiterei.
Reinou um silêncio entre todos. Como se a minha sugestão fosse absolutamente estapafúrdia, o senhor Kalei, que até então eu o tinha por responsável da aldeia, dedicou-me um outro olhar severo que me perguntava se eu era filha de quem, se sabia o que estava fazendo e incapacitava-me, por instantes, a responder sobre quem eu era, muito menos de que família eu vinha e o que estava a fazer lá. Deu passos dum lado para o outro e esbracejou.
— Ele é o soba de Lunje — Afirmou. Fez uma pausa, enquanto chupava nervosamente o polegar. Olhei-o como uma mota em fuga. Ou como se todos os sons do mundo estivessem emudecidos só para eu ouvir aquela declaração em voz bem audível. — É o soba de Lunje!
A afirmação fez-me sentir como se me estivessem a cortar ao meio. O nome de soba passou pela minha cabeça com uma onda de emoções negativas. Processei tudo o que eu sabia sobre o nome. Desde pequena que eu aprendera que ao sobado só chegava quem também fosse bruxo. O soba devia ser temido. Deparar-se com ele obrigava as pessoas a deixarem o caminho todo para ele passar. Cruzar debaixo da sombra dele era coisa que causava borbulhas e desgraças.
— Ele é que fala com os antepassados. Ele é que tem as chaves. Nós somos, porque ele é. O Kalei continuou a lançar palavras — Devias ter mais respeito, criança… e quem te trouxe cá?
Senti que me afundei. Fechei os olhos, soprei uma golfada de ar do que pareceram pulmões de aços. Analisei o peso de tudo o que falei. Cada grama da palavra proferida era como um adobe que me comprimia o peito. Não soube como responder tão rápido àquele comentário do Kalei, que continuava a olhar para mim sem pestanejar. Desejei que o chão me pudesse engolir. Tomou-me um estrondoso espanto. Afinal eu tinha desrespeitado o soba com palavras.
Ganhei um pouco de coragem — Eu não sabia… — Solucei. — Eu não sabia… mazé. O Kalei repetiu minhas palavras sem emoção, como se estivesse a dizer que eu perdi o juízo.— Eu… — Voltei a gaguejar. — Eu estava a espreitar — Ouvi muitas coisas, mas essa não queria que prevalecesse. — Soltei essas frases com temor e tremor. Eu falava com muita pouca vontade. Minha cabeça idealizava castigos pelo desrespeito ao soba e à sua corte.
— Pissoas nde angora… Pissoas nde angora … — disse o soba num roto português, enquanto coçava a cabeça e fechava um baú com bugigangas que me eram inacessíveis.
Se as conversas da corte já eram sombrias, o comportamento ficou ainda mais sombrio. Fechou os olhos por minutos, como se estivesse em rezas profanas. Depois olhou nos meus olhos com claro aviso de que aquela era uma conversação para a qual eu não estava preparada. Nem por idade, nem por simpatia. Então murmurou as palavras — Éza Mingota, neta da Teté, nué — O espaço ficou silencioso. Tão silencioso que juro que ouvia o meu próprio coração a bater. Pus as mãos nos lados da cabeça, porque não encontrei uma mentira suficientemente depressa. Então decidi responder que sim com a cabeça e piorou o olhar de decepção que o idoso me dedicou. É como se no interior dissesse — Eu conheço-te por muito tempo. Vejo tuas traquinices. Mas vir aqui na reunião da corte do soba, é como encontrar os pais sem roupas. Cagaste no prato…
Afinal, quem eu sempre tivera por louco, era o próprio soba. E o conversar sozinho, era o conferenciar com os ancestrais, trocar ideias sobre a marcha da nossa aldeia de Lunje. Ficamos a encarar-nos por mais um tempo. Cada segundo que passava era mais um momento em que me sentia péssima. Queria dizer mais alguma coisa, mas sentia que nunca tive uma conversa tão pesada e por isso, precisei só pagar pelo já dito e não ousei acrescentar mais nada. Foi naquele momento que senti saudades do rigor da casa da mãe, para que eu não fosse assim tão aluada nas coisas, tão apressada nas falas. Se eu prestasse atenção às chamadas de atenção da mãe, talvez aprendesse a arte de falar sem retirar, a seguir, cada palavra que saísse da minha boca. Fiquei ao lado deles, como que já em julgamento silencioso. Minhas mãos tremiam e eu só brigava com infernos interiores.
Em pouco tempo, o ambiente ficou dez vezes mais pesado. Eu transitava como uma entidade morta-viva, quase infra-humana. Ofuscaram-se minhas lembranças. Minha visão diminuiu. Eu trans- pirava de todos os lados. Sentia o corpo a arder, como que mordida por quissondes, e pus-me a correr para a nossa casa. Sufocada pelo que acabava de dizer e ver, minha avó que retornava das inúteis na- cas, deu-se comigo desorientada, com miolos todos numa algazarra.
*****

Pus-me em direção da avó em choros. Os gritos saíram-me mais ásperos do que o quanto eu pretendia — Avó, fui procurar azar! — A minha intenção era de dizer “Fui desrespeitar o soba e a sua corte”, mas senti que a frase tinha o mesmo significado. Por isso, não tive dificuldades de andar de um lado para o outro, como se estivesse a pairar, e repetir— Avó, fui procurar azar. Avó, fui procurar azar.
Repetia tanto que, mansinha que era ela, nos primeiros instantes, pensou que eu me tivesse queimado ou perdido algum membro do meu corpo. Por isso, ela esfregava-se os olhos com as mãos para ver melhor. Quanto mais eu repetia com tonalidade baixa, a querer pedir desculpas, mais para ela ficava difícil decifrar que diabos tinha acontecido comigo e que tipos de folhas secas da reserva familiar precisaria de mastigar para me aspergir.
— É o quê, minha neta? — Não lhe ouvi quaisquer vestígios de zangas — É o quê? —- perguntava-me, enquanto me revistava o corpo, transmitindo seu desespero na voz. A voz estava barítona de preocupação, a minha, eu não conseguia mais sentir. A avó insistente perguntava, perplexa, mas minhas respostas eram longas repetições e gemidos difíceis de interpretar.
Não lembro mais nada. Quando acordei, era outro dia. Estava na cama da avó e toda inchada de dolorosas borbulhas. Não conseguia falar. As convulsões e o silêncio passaram a ser meus mais proeminentes estados. Ela, que desde sempre era animada, parecia ter perdido a brisa nobre. Estava com os ombros curvados, demonstrava exaustão mental. A beata preparava unguentos e beberagens. Cobria a cabeça com panos cerimoniosos, ficava descalça para ouvir melhor os antepassa- dos e encontrar um jeito de me curar as anomalias. Passou a dirigir-se mais ao canto dos antepassados, a acender- -lhes as velas, a meter-lhes batata-doce, gotículas de óleo, ínfimas gramas de açúcar e a organizar-lhes o espaço com extremos cuidados, como se esperasse por alguma visita deles. Por dias, vi-a concentrada no canto dos que já se foram. Talvez se comunicar com eles para ter notícias do que faria comigo. Para que entre candeeiros, folhas, incensos e ladainhas, pudesse ver a origem do mal da sua neta.
Deixou de ir buscar a água no rio distante para me dedicar os tempos. Teve, por necessidade, que desenvolver a capacidade de ler com mais atenção os olhos e os meus gestos, pois que tinha emudecido. Para que esse vínculo ocorresse e causasse um cumprimento duradouro, as culpas e as repreensões ficaram de lado. No começo foi difícil entender os gestos. Com o passar dos dias, essa linguagem tornou-se uma extensão das nossas expressões. Nos modos de me mimar, tinha acrescido a devoção de contar-me historietas sobre o coração que minha mãe tinha.
O estranho de tudo é que, sempre que eu tentasse revelar o que me acontecera por gestos sentia a memória a sumir abruptamente. Uma espécie de aviso mecânico de que eu estava proibida de falar a respeito das ocorrências que originaram todo o caos.
*****
Duas semanas depois, eu empalidecera. Quando ficava noite, gritava estranhos urros que um ser humano nunca podia produzir. Ela pensava e pensava. Tentava em sua cabeça montar o dilema. Procurava-me nos olhos — O que foi, menina? Diante da minha impossibilidade comunicativa, repetia mais gentilmente — O que foi, minha menina?
Ela que tinha os modos de depositar comida uma vez em cada turno no canto dos antepassados, duplicava os ofícios. Acendia mais candeeiros. Nas refeições passou a meter um cochito de comida na minha boca e outro no concreto chão dos antepassados, numa espécie de refeição colectiva. Isso só durou dois dias. A avó Teté começou a fazer um em- brulho de viagem. — Vamos procurar a tua saúde.
Quando o dia começava a dividir o céu com a noite, tentei adormecer. Antes da meia-noite, no sonho, senti um calafrio percorrendo meu corpo, dedilhando a minha espinha. Eu virava-me de um lado para o outro. Sentia como se algo me estivesse a ser acrescenta- do na parte da cintura abaixo. Como se me estivessem a introduzir um braço no útero. Enquanto a coisa entrava e saía de mim num vaivém que me fez recordar os bichos da aldeia, senti um desconforto terrível. Depois doía-me todo o órgão genital, mas é mais no fundo do útero que me sentia estrangulada.
Procurei por filetes de luz, quem sabe, alguma estrela perdida que se apresentasse como uma velha conhecida, para dizer que eu não estava sozinha naquele combate. Que tudo ficaria bem. Mas nada resultava. Estranhei. Firmava as mãos, mas não conseguia. Notei as pernas bambas, o coração disparado, eu, inteira, a transpirar cansada. Tentei recuperar o fôlego, mas não havia ar suficiente para aliviar a sensação. Fiz preces para que aquilo não fosse verdade. Tudo o que restou foi o silêncio. Tive certeza de que com o soba não se brincava mesmo.
Encarei com as mãos o saiote sujo de sangue. — Avó, isso é o quê? Fabriquei a pergunta na minha mente, mas não a fiz, porque lembrei que não conseguia emitir som. Mexi ela. Numa tentativa de arrancá-la das garras do sono. Mas ela estava petrificada no além do profundo sono.
Em questão de segundinhos, descobri que algo se havia rompi- do dentro de mim. Para todo sempre. A verdade, afinal, se conhece aos poucos. Eu, que me guardara a vida inteira para o meu até então desconhecido esposo, acabava de perder a virgindade naquele episódio tenebroso. Sangrava o meu órgão genital e doía tanto quanto ser violada por um sexopata. Saber que havia mais nesta vida do que aquilo que poderiam os olhos ver fez eu atribuir insignificância a tudo o que poderia o futuro guardar-me. Abanei resolutamente a cabeça, porque estava zangada. Zangada é um eufemismo. Não conseguia dar sentido àquele episódio da minha vida. Aliás, quem é que poderia estar preparada para uma coisa assim?
Pensei se uma mulher tinha o direito de perder sua pureza naqueles estranhos modos. Não encontrei a resposta, talvez não houvesse uma resposta. Olhei para a avó de novo, porém, não abria os olhos. Estava tomada de sono e a roncar. Só depois é que foi tomada por alguma força maior que o sono. Clareou os olhos. Encostou por perto de mim. Olhou para o meu sangue derramado. Abriu os braços mostrando clamores com prontidão:
— O que é que se passa, minha netinha? Fitou-me com solenidade — Impossível! — Disse. Notei algum mistério na reacção dela. Era como se tudo para ela já fizesse sentido. Suas palavras não destoaram muito da sua positividade habitual, mas me reconfortam, pois me deitou a mão e o contacto foi tão íntimo que calei por instantes. O jeito como me encarou era solidário.
No meu pescoço havia marcas de unhas que não fazia a menor ideia de onde vinham. Ela olhou-as e percebeu que estava escapando cada vez mais. Desaforou lágrimas. Ficamos ali em silêncio por mi- nutos quase eternos. Depois, ainda mastigou algumas ervas secas guardadas há mui- to tempo no tecto da casa de capim, cuspiu-mas e a noite ficou cheia de questionamentos sobre o porquê de as coisas irem a mil horrores e acabamos por pregar mais um pouco os olhos.
*****
Se pensei que aquela ida ao sono já tinha dado surpresas sufi- cientes, eu estava enganada. Houve uma outra luta no sono. Eu tinha vontade de me mover, mas nada resultava. Fazia forte tempestade. Volta e meia um bruto clarão rompia as nuvens, parecendo a ventania atiçar as chamas invés de apagá-las. O som, não muito diferente dum rufar de tambores, anunciou a chegada dum senhor sem rosto. Era alto, sólido, couraçado. Talvez fosse um tchikisikisi. O peito, pintado de vermelho e de branco, estava coberto de ásperas cicatrizes, sinais das muitas pelejas em que teria andado envolvido.
Acompanhado de dois capatazes que sussurravam, entrou no lugar em que me encontrava. Algemou-me os braços, usando horrendas cordas. O senhor sem rosto leu para mim a ordem oficial de execução, um documento de uma página. Repleto de palavras que, pelo jeito como as lia, nem as entendia por inteiro. Ouvi sem muito interesse. Tudo de que me lembro era a parte de ter dito— Mingota, estás condenada por desrespeito aos costumes e ao soba. Temos de te levar. A declaração partiu-me o coração, mas ainda revidei com o — Eu não vou! Eu estava lá com coração descompassado e com assombro. Dois homens que o ladeavam revezaram-se nos açoites contra mim durante um tempo que me pareceu infinito. Contavam em cada chi- cotada. E em cada chicotada, respondia mais determinada: — Eu não vou! — Não é minha vez! — Eu não vou! — Não é minha vez! — Eu não quero ir!
Num primeiro instante, doía-me mais a vergonha de me ver assim exposta, nua e amarrada do que as chicotadas. Logo, esqueci-me da nudez. Sempre que o chicote me cortava a carne, sentia o ar a fugir-me, a vida a fugir-me. Após a quadragésima chicotada, que na verdade era a octogésima, já que o meu algoz contava só uma vez depois de dois açoites, tive a certeza de que nunca senti tamanha dor física. Só queria que tudo parasse. Morrer já me parecia a melhor opção. Mas para eles não, aquilo era só uma preliminar exibição. Havia muito mais a aguardar-me.
Para a execução, levaram-me ao quarto de tormentos. Amarraram-me ao infame quadrado de madeira milimetricamente coordenado. Apertaram os parafusos de madeira. Apossando-se do meu corpo, voltaram a chicotear-me, como se eu lhes estivesse destinada desde o princípio do mundo. Rompi num choro convulso, como uma criancinha. — Socorro! — Eu tentava gritar. — Socorro! — Trans- pirava, borrava-me toda no saiote o chichi.
Consideraram dar-me algum intervalo — Chega? — Perguntavam-se meus opressores e respondiam-se ao mesmo tempo — Não chega! — Chega? — Tem de sofrer mais. — Cada resposta para que eu fosse mais castigada soava como uma facada a mais a cravar em meu peito.
Para onde fui acompanhada de seguida, festejava-se por todo a minha chegada. A folia atravessava os gestos. Faziam-me mesuras e salamaleques. Fiquei tomada por estranhas sensações de frio e calor, de conhecer e desconhecer ao mesmo tempo o lugar e as pessoas que lá habitavam. Era como se lá coabitassem vivos e mortos em harmonia.
Vi hábeis batuqueiros e flautistas ao som do tradicional omboyo e outras melodias de Justino Handanga. Ouvi mais outras cancões familiares do lendário general Viñi Viñi — Otcho tchiwa otcho komwenho… — Walinga yu watyuka… Eram canções tão deleitantes que destruíam qualquer pretensiosa ida ao psicólogo. Os encontrados davam enormes saltos de danças como aves amestradas. Serviam-se e me serviam um licor brando e quente, o kaxí, e a quissângua.
Fiquei desapontada, como se achasse que o protocolo que cercava aquele ritual de vingança ou sei lá o que quer que se tratas- se, não estivesse sendo observado com classe e elegância. Tendo o senhor sem rosto encerrado o seu repetitivo recital condenatório e as canções abrandado, perguntou-me se tinha alguma última declaração a fazer.
Assenti que sim com a cabeça: — Acho que não estou ressentida. Até que é nobre a ideia de me mandar fora desse lugar… só… — e então, como que para enfatizar minhas palavras, troquei um fingido aperto de mão tão estranho, como se recebesse convidados em meu próprio funeral — só acho que meu lugar ainda não é aqui… — deve ter havido alguma confusão — Não deu a mínima e enquanto uma delicada máscara negra era ajustada ao redor dos meus olhos, acrescentou o senhor:
— Mingota, que os ancestrais tenham piedade da tua alma. — Só entendi esta parte, mas o homem continuou a encher a minha cabeça com mais informações do que eu conseguia acompanhar.
Então comecei a gritar. Tudo parecia preferível, menos permanecer naquele lugar. Sentia-me tomada por uma terrível angústia. Custava-me ficar naquele lugar. Custava-me ainda mais fugir, como se estivesse sobre os meus ombros um peso invisível que me impedia de articular a corrida. Fiquei entre o revidar e o querer sair às mil pressas.
Comecei a correr o máximo que podia, mas os capatazes não facilitavam. Soltaram os cães de combate, animais que eu nunca vi em número tão grande. E no meu terror, tomei-os por homens transformados em bichos. Quanto mais eu corria, tanto mais parecia eu estar no mesmo lugar, como que imóvel na larga torrente do tempo. Era como se conseguisse ver o meu próprio corpo ou estivesse na minha própria frente, a correr na minha direcção, sem fazer qualquer progresso que fosse.
Na confusão de gente que me vaiava e dos cães que me perseguiam, dei por mim a entrar na escuridão, como se estivesse a saltar para a boca voraz da própria noite. Sentia o cheiro podre do lugar do qual eu saía e dos corpos suados dos cães. Auscultava o troar dos ladros, o ruído do chão a ser chocado pelas patas, os gemidos dos cães, mas tudo aquilo chegava até aos meus sentidos como se eu fosse uma outra pessoa ou um fantasma.
Ulteriormente, despertei em prantos. Mijada e cagada, sentindo-me como uma criança perdida. E quem me dera fosse só isso. Mas não, tinha também os pés estranhamente doloridos e inflamados. A cara amarrotada. Perdi os sentidos a seguir. Quando despertei do desmaio, minha avó consolava-me. Eu não sentia fome. Sede sim. Tinha a boca seca. A língua prendia-se aos dentes como um pedaço pesado, mal permitindo-me formar vozeamentos. Ficou inabitual o ambiente comigo, como que vagando por um outro mundo, incapaz de recordar o meu próprio nome ou de executar um movimento com o corpo. Nosso quarto parecia impregnado de emanações malignas ou como se residissem mais invisíveis pessoas connosco.
Depois de a avó perceber que eu tinha outra luta no sono, enrolou-me algumas mascotes feitas às pressas com mistura de tecido de pano e ossículos — para afugentar os espíritos malignos — dizia. Untou-me com incensos, unguentos, pós e cristais para me proteger. Dentro de casa, vozes e ruídos começaram a ser ouvidos. Não mais por mim apenas, mas por ela também.
*****
A avó Teté pôs o embrulho à cabeça. Amarrarou algumas galinhas aos panos e prendeu-as à bunda. Colocou-me às costas e disse:
— Temos de ir ao Hengue-Caculo consultar a nossa vida na quimbanda, para saber quem te está a fechar os caminhos… quem te está a entrar nas saias. Caminhamos desde manhã e depois debaixo do sol ardente. Vão só por esse caminho, não vão perder — ouvimos essa recomendação nas inúmeras vezes que perguntávamos aos aldeões encontrados se estávamos no caminho certo.
Desde cedo, contava-se, a quimbanda havia precisado conviver com aquela face mágica. Era uma senhora igual às outras, mas com a maternidade ampliada aos perturbados de mente e de corpo. Só que, se por um lado tentar ajudar era bom, por outro lado, as exigências que fazia eram penosas e empobreciam os que a consultavam.
Diziam que ela possuía o poder de se transformar, não em cobra, mas numa pessoa diferente, com outra catadura. Com outros modos e outras vozes. A ela acorriam quase todas as pessoas para resolverem a vida. Animadas, a minha avó e eu atravessamos o rio para alcançá-la na comuna. Encontramos a quimbandeira no entardecer do dia. Era uma idosa muito idosa, com a casa cheia de gente de todos os tormentos: juízes, oficiais, médicos, governantes, povo em geral e até pastores. Fazia sentido o que se dizia dela. De facto, estava cheia de luxos extravagantes. A comuna não tinha luz geral, mas ela tinha um gerador de alta qualidade que funcionava o dia todo. Ela própria inspirava respeito e temor, não só pela valentia e pela riqueza, mas também pelas artes de feiticeira que havia trazido para a comuna do Hengue-Caculo. Era famosa na boca de toda a gente. Ora como trapaceira, ora como supersticiosa, dada à cartomancia e à magia. Ora como quimbanda. A velha tinha olhos de coruja. Via no escuro e orientava-se pelas estrelas e pelos pequenos ruídos do mato.
A mulher de muitos encantos e encantamentos vestia ricos panos arco-íris e ornava-se de belas missangas e sonoras malungas nos braços, nos calcanhares e no pescoço. Era uma mulher corpulenta, cheia de carnes. Rosto rude, tenaz e de duras esquinas. Pelo número de pessoas que lhe recorriam, pelas riquezas que o quilombo dela ostentava, de alguma maneira, ela é que governava o Bailundo com as artes do seu invento.
A confiança de todos aldeões na utilidade da quimbanda as- sustava a minha inocência. Lá, no seu pátio, havia indícios da ordem natural do mundo. Uma sociedade em miniatura, onde ela mandava e os outros obedeciam. A gente que lá encontrámos aclamava-a. Dizia que observava passados, antevia destinos, avisava os protagonistas. Dizia ainda dela que sabia reconhecer, no sussurro das árvores gingando sobre os ares, no cantar dos pássaros ou na fugaz sombra dos mesmos, as remotas vozes e vontades dos antepassados.
Era capaz de conversar até com vikisikisi. Podia prever com exactidão o dia em que uma mulher iria parir, ainda que a mesma não se reconhecesse grávida ou a noite em que um gato preto viria pela brusca febre levar um bebé para o mundo do Além. Aceitava consultas em troca de fortunas. Se lhe perguntassem pelo significado dum sonho, cerrava os olhos, inclinava-se para trás e para frente, mexia nas suas bugigangas e, após alguns instantes, fazia prenúncios.
Aquilo era uma autêntica casa de psiquiatria. Uma escola de ciência inversa. Tinha à volta muitos homens subservientes. Raramente ela gritava, mas impunha tanta autoridade aos capatazes. Para os que em seu destino lhes aparecesse encantos e futuros promissores, endoideciam de alegrias e davam acrescidas quantidades de dinheiro que geravam riquezas absurdas para a quimbanda e seus funcionários.
*****
Depois que a avó contou tudo que ocorrera comigo, a quimbanda cerrou as pálpebras, mexeu em minhas saias e me untou o peito com ervas.
— Ela é a Ndomingas, nué? — a avó Teté acenou com a cabeça que sim — Nome piqueno é Mingota, nué? — meus olhos seguiam-na em cada movimento enquanto a avó me olhava e rapidamente dizia os incontáveis sins. De tão perfeita que a quimbanda era nos seus engenhos, distraía-me dos erros do mundo e das dores do corpo.
— Mba fizerom mbem nde vierem me procular. Essa njovem faltava pouco pram lhe levarem.
Avó Teté fez perguntas, mas a vidente estava com respostas lacônicas e tudo que fez foi acender um lume com ervas que fumegavam um nojento fumo. Ferveu ervas e as depositou numa bacia suja e de ferro. Mandou que eu ficasse nua e me posicionasse na frente do lume e da bacia.
Envolveu-me em cobertas sufocantes para que eu inalasse o vapor do líquido e do fumo. Fiquei a padecer. Tossia e tossia. Abraçava a mim própria o corpo, tentando suportar. Convulsava e convulsava. Apesar de ser importante o tratamento que me estava a aplicar, a sua voz chata arranhava-me os nervos e o fedor das suas ervas me nauseava.
Saí do ciclo mais entontecida do que antes. Se antes eu não palavreava coisa que se entendesse, depois comecei a salivar de modo que se formou um muco leitoso no canto da boca. Lancei sussurros misturados com lacrimejos. O caos instaurou-se. Rolei pelo chão, despindo-me a alma, desmanchando-me gentiamente.
— Mba está a ndar certo — disse ela, com convicção de boa curandeira. A seguir, a senhora pôs-se a dançar. Vezes e vezes inclinava-se sobre um cesto feito por suas próprias mãos. Com espelho, gindungo kahombo, feijão, milho, caroços e outras coisas mais.
Aspergia desde a boca coisas misteriosas sobre a terra em volta das quais acalcanhava com ambos os pés com a mesma fascinação de quem semeia. Depois, víamos os olhos vermelhos, o rosto contorcido, a enorme quantidade de saliva como espuma que saía da boca da mulher. Toda aquela cena deixava-me com um misto de curiosidade e medo.
— Essa njovem tem cuesa stranha ndendru ndela, maji é ela mêmo que provocou com a mboca. Falare com os majis velhus é lesponsabilindande.
— Tem coisa estranha dentro de mim? — monologuei, e se eu pu- desse, teria perguntado para entender melhor que raio de coisa estranha estava dentro de mim, mas depois me lembrei — a minha boca, a minha boca comprida é que trouxe muitas novidades em minha vida.
Mandou-me para o leito descansar. Os ritos foram se repetindo durante cinco dias, até que num sábado, depois de todos os procedimentos, a avó Teté entrou numa conversa privada com ela. Era para acertar os custos do tratamento. E não eram poucas as despesas. As galinhas que tínhamos levado não serviram nem para os procedimentos introdutórios. Mas recomendou:
— Outlas cuesas entregueum mému no Soba. Noji tranbalhamos jundos.
De súbito, ofereceu-me uma garrafa para capturar quem estivesse a pregar-me as dificuldades. Encheu-a de kaxi e água salgada. Acrescentou alfinetes e agulhas para furar e ervas para repelir os seres malignos e acrescentou com tonalidade muito séria:
—Aqui a chuva num cai sozinho. Aqui a chuva é dos andepassados, maji é o soba quem nda nas pissoas.
*****
Tínhamos passado o natal mais triste da aldeia. Comiam-se migalhas. Não havia janeiras na passagem de ano. A única parte alegre era o facto de eu conseguir articular sons e falar. Os aldeões tinham aceitado as interpelações. Empobreceram–se ainda mais e deram tudo ao soba para os devidos sacrifícios aos antepassados: os animais de caça e de criação que haviam resistido à seca. Os porcos-índios, as galinhas e até os ratos de caça. As espigas para as sementes e qualquer coisa mais que fosse digna. Tudo. Absolutamente tudo tinha sido dado ao soba.
Dias depois, já num sábado, os batuques saíram com enorme comoção. O Kalei chamou todos para a casa do soba. Era possível distinguir os questionamentos das pessoas:
— Será que isso é o anúncio da chuva?
Naquele dia, o soba Ukwassapi vestiu-se faustoso. Trajava uma tira majestosa na cabeça. Ouvimos a sua voz fraca, quase inaudível, entoar uma cantiga.
— Ombela yeya, ondjala yanda! — Olhávamos encantados para ele. E quanto mais todos olhávamos, tanto mais ele subia um pouco a tonalidade — Ombela yeya, ondjala yanda! — e no mesmo instante, um redemoinho visitava o pátio da aldeia.
A avó Teté dava giros habilidosos no pátio do soba, ora como se jogasse uma rede de pesca no meio de todos, ora correndo em evoluções como um rio em festa. Enquanto isto, as outras mulheres lançavam aos sete ventos os “wewelekete we”. Até as aves cantarolavam alegres, como se a aldeia tivesse ganhado uma alma nova. Algumas pessoas da corte do soba pareciam alegres demais e, querendo desvendar o mistério da alegria, perguntavam-se:
—Será que apareceu a chuva e com ela o herdeiro do trono?
Os outros sorriam das danças da avó Teté, como pessoas in- crédulas, achando que a velha Teté tivesse tomado alguns copos. Ela segurou as minhas mãos e perguntou, sussurrando em segredo:
— O que é que não estás a me contar, menina? — Depois cochichou sobre um filho herdeiro, mas era uma frase sem nexo que não entendi com precisão.
Fiquei por minutos no limite entre a crença e a descrença. Permaneci com mais dum milhão de perguntas. Era como se tivesse vivido toda a minha vida em águas pouco fundas e nas últimas se- manas tivesse mergulhado de cabeça no rio Culelé.
Levantei as mãos. Pontapeei a terra. Pontapeei outra vez desenfreadamente, porque não fazia o menor sentido o que acabava de ouvir.
— Será que apareceu a chuva e com ela o herdeiro do trono?
Passei instantes em claro, a pensar no significado dessas palavras. Os olhos da avó Teté estavam cinza-húmidos por trás das danças. Comecei a tremer. Minha ansiedade aumentou. Pensei nalgumas vagas conversas da adolescência que não levei muito a sério naquela altura sobre o atraso da menstruação. Mas me dei as concentrações:
— A simples ausência da regra não é motivo para me intimidar. Até porque nunca me envolvi com um homem literalmente.
Peguei-me na cabeça. Tentei pensar numa maneira de confirmar aquela teoria ou de a refutar. Parecia que estava eu errada. Nem sempre as coisas funcionam do jeito normal. A cerimónia de cantos e danças continuou. Não tardou muito para as primeiras pingas de chuva caírem no céu do Lunje. Quanto mais as gotas caiam, tanto mais os homens, as mulheres e as crianças entoavam suas canções com bravura e alegria. Os dias seguintes foram de festa na aldeia. Os adultos carregavam suas enxadas para o cultivo da terra. A chuva caía mais forte a cada dia e com ela vinham as cores das flores. Com ela, os animais de caça abundavam de novo a floresta.